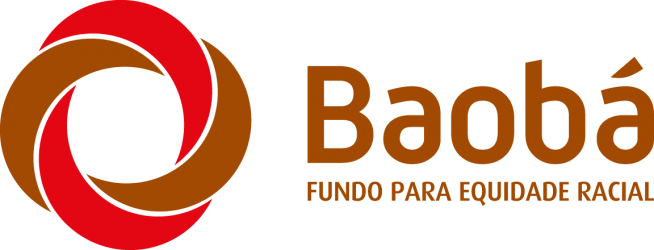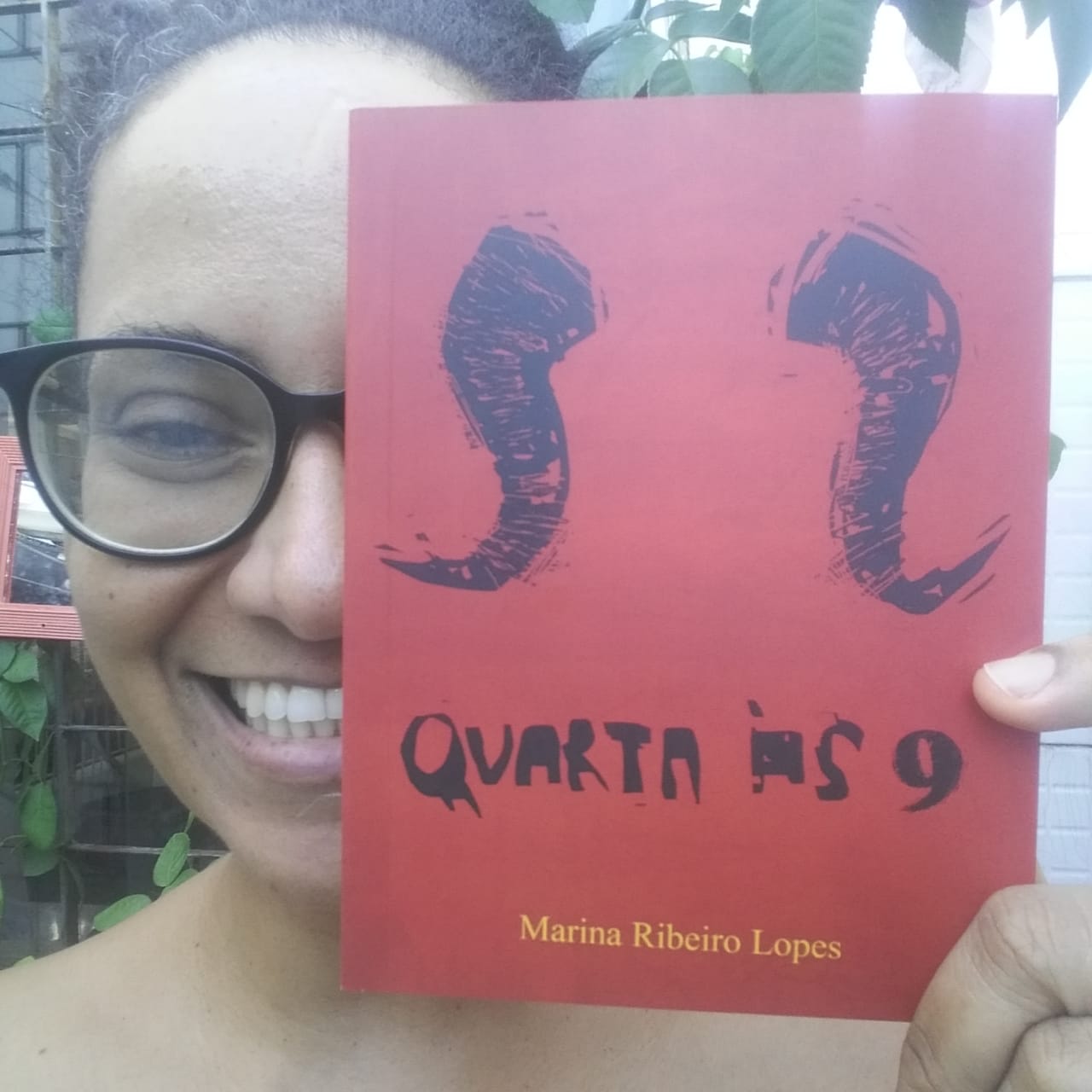Conheça algumas trajetórias e iniciativas apoiadas pelo Programa Marielle Franco de Aceleração do Desenvolvimento de Lideranças Femininas Negras, do Fundo Baobá
Por Jamile Novaes*
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que a taxa de frequência escolar entre crianças negras de 6 a 10 anos no ensino fundamental é de 95,8% no Brasil. No entanto, esse número cai gradativamente ao longo da trajetória de escolarizacão, chegando a 18,3% entre jovens negros e negras de 18 a 24 anos que frequentam o ensino superior, contra 36,1% de pessoas brancas com a mesma idade. Quando o assunto é analfabetismo, a taxa de pessoas negras nessa condição atinge 8,9%, quase o triplo dos 3,6% de pessoas brancas não alfabetizadas. Os números são do estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgado em 2019, antes da pandemia.
Historicamente, os espaços de formação acadêmica podem se apresentar como ambientes hostis para pessoas negras, sobretudo para mulheres negras. Ser uma estudante negra no Brasil implica passar por situações de rejeição, humilhação, abusos, solidão e uma série de apagamentos que ocorrem desde os primeiros anos escolares. O currículo escolar da educação básica costuma apresentar a mulher negra de forma subalternizada, ignorando suas contribuições para a história, ciência, política e cultura do país. Mesmo com a implantação da Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira, ainda existem muitos desafios e um longo caminho a percorrer para a sua aplicação efetiva.
Este cenário afeta de forma significativa a trajetória escolar, prejudica o desempenho nos estudos e diminui significativamente as possibilidades de ascensão acadêmica dessas meninas e mulheres. Não por acaso, o Censo da Educação Superior de 2016 apontou que o total de professoras doutoras negras em cursos de pós-graduação no país não chegava a 3% do número total de docentes.
No entanto, mesmo ainda representando uma minoria dentro do espaço acadêmico, é possível notar o potencial transformador e os efeitos multiplicadores das trajetórias de educação de mulheres negras. Para enfrentar a solidão de ser negra e acadêmica, ampliar as suas vozes e legitimar a sua produção de conhecimento, muitas têm construído estratégias de aquilombamento dentro das universidades e protagonizado ações que alcançam a comunidade negra como um todo. São redes de apoio criadas para permanecer, resistir, ressignificar saberes e criar novas narrativas e possibilidades de transformação através da educação. Algumas dessas iniciativas e projetos foram contemplados na 1ª turma do Programa de Aceleração do Desenvolvimento de Lideranças Femininas Negras: Marielle Franco. Uma ação do Fundo Baobá para Equidade Racial, em parceria com a Fundação Kellogg, o Instituto Ibirapitanga, a Fundação Ford e a Open Society Foundations.
Vamos conhecer um pouco sobre essas mulheres, suas trajetórias de educação, perspectivas e como elas têm atuado para promover uma educação antirracista e acessível para seus pares.
Sulamita Rosa, da Rede MulherAções
Sulamita Rosa da Silva é graduada em Pedagogia, mestra em Educação pela Universidade Federal do Acre (UFAC) e recentemente ingressou no Doutorado em Educação da Universidade de São Paulo (USP). Ela lembra que durante seu ensino médio, cursado em uma escola particular, era a única estudante retinta da sua turma. No curso de pedagogia, Sulamita conheceu a Lei 10.639/03 e decidiu dedicar-se às pesquisas que interseccionam raça e educação. “Nossa! Aquilo ali me brilhou os olhos de uma forma incrível. Queria pesquisar sobre a minha negritude, sobre as minhas raízes, sobre a educação voltada para essa temática. Eu fiz meu TCC sobre valorização da cultura negra no currículo de uma escola de Cruzeiro do Sul e a partir desse TCC eu pude perceber que os professores ainda não tinham essa compreensão”, explica.
Durante o mestrado em educação, Sulamita percebeu que, apesar de não estar mais sozinha enquanto estudante negra, ainda era notória a falta de professoras pretas no espaço da universidade. Intrigada com essa realidade, produziu sua pesquisa de dissertação de mestrado sobre as trajetórias de professoras negras dos cursos de formação de professores da UFAC. Ao realizar um mapeamento, identificou apenas 11 professoras negras.
Junto às mulheres pretas que encontrou durante a sua pesquisa, Sulamita criou a Rede MulherAcões, coletivo que tem por objetivo ampliar a ocupação de mulheres negras, indígenas, e afro-indígenas nos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. “O desenvolvimento da sociedade brasileira foi através do conhecimento produzido por mulheres negras. Só que esse conhecimento foi invisibilizado em decorrência do racismo estrutural. E a gente visa justamente o empoderamento através da coletividade e através da nossa presença nesses espaços que outrora nos foram negados”, explica Sulamita.
Com o apoio do Programa Marielle Franco de Aceleração do Desenvolvimento de Lideranças Femininas Negras, a Rede MulherAções desenvolveu uma série de atividades formativas que possibilitou o ingresso de Sulamita e mais cinco mulheres negras e indígenas em cursos de mestrado e doutorado. Rani Shanenawa, Matsiani Shanenawa, Edilene Pakakuru (indígenas de etnia Shanenawa) e Beatriz Domingos da Silva foram aprovadas em cursos de mestrado. Já Sulamita Rosa e Cláudia Marques de Oliveira, fundadoras do MulherAções, ingressaram no Doutorado em Educação da USP.
Sibele Gabriela dos Santos
Sibele Gabriela dos Santos é Assistente Social, mestranda em Planejamento e Análise de Políticas Públicas e recém aprovada no Mestrado em Educação pela USP. Durante a graduação em Serviço Social, Sibele identificou que, apesar do curso ser composto majoritariamente por mulheres, havia poucas estudantes negras como ela e nenhuma professora. Embora a população negra do Brasil represente uma boa parcela das pessoas atendidas por políticas públicas de assistência social, Sibele conta que não eram ofertadas disciplinas que tratassem especificamente de questões étnico-raciais.
Para preencher as lacunas em sua formação, contribuir com a sua comunidade e garantir a permanência no mestrado, Sibele se inscreveu no Programa. O projeto inicial previa ações com estudantes de escolas públicas e privadas de Igarapava (SP) para dialogar e sensibilizar sobre os desafios da implantação e implementação da Lei 10.639/03. Devido às normas de segurança sanitária estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em função da pandemia de Covid-19, toda a mobilização acabou acontecendo por meio das redes sociais, rádios comunitárias e plataformas de vídeo.
Sibele aponta que um dos maiores desafios para a aplicação da lei de ensino da história e cultura afro-brasileira, está na falta de representatividade de pessoas negras nos espaços de construção pedagógica e de tomadas de decisão política. “Infelizmente a maioria dos professores, coordenadores e diretores são pessoas brancas. O perfil dos funcionários que ocupam as instâncias de decisão não reflete a diversidade social”, explica.
Para enfrentar este desafio, Sibele acredita que as políticas de educação devem ser pensadas em conjunto com outras políticas sociais, como saúde e assistência social. De forma que, busque uma abordagem interseccional que dialogue com intelectuais, movimentos sociais e territórios. “A educação não é neutra e todes que estão inserides nas instituições formais e informais devem ter o comprometimento ético e político da desconstrução do mito da democracia racial”. Para ela esse movimento só ocorrerá através do diálogo com a comunidade e com o território. “Se estamos falando de uma escola antirracista, estamos falando de uma escola democrática que acolhe, respeita, que luta por justiça social e que valoriza a construção de seus projetos e planos de forma coletiva”, completa.
Apesar das limitações impostas pela pandemia, Sibele reconhece a importância do Programa Marielle Franco para a sua formação pessoal, profissional e política. “Entrei no Programa com o conhecimento raso sobre racismo estrutural, feminismo negro, empoderamento e representatividade. Hoje sou uma mulher negra empoderada, protagonista e com um vasto conhecimento sobre desigualdade social”, conclui.
Lorena Amorim Borges
Lorena Amorim Borges é bacharela em Direito e pós-graduanda em Direito Penal. Em sua atuação, pauta o enfrentamento às desigualdades de raça, classe e gênero. Ingressou no ensino superior aos 30 anos e aponta a falta de tempo para os estudos e de recursos financeiros como os principais desafios em sua trajetória acadêmica. “Embora a gente tenha vivido um momento em que a graduação foi mais acessível para os nossos, ainda não é tangível para muitos ocupar a academia porque a gente precisa sobreviver e por vezes é muito difícil estar no espaço acadêmico enquanto tá com risco de corte de luz, por exemplo”, conta Lorena.
Ainda durante a graduação, Lorena recorreu ao Programa Marielle Franco com o objetivo de potencializar a sua formação acadêmica, aprimorar os seus conhecimentos e obter aprovação junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Seu projeto previa um intercâmbio para aprofundar os seus estudos em língua estrangeira, o que não pôde ser realizado por conta da pandemia de Covid-19. Ainda assim, Lorena redirecionou o recurso obtido para a realização de um curso de inglês. Com o suporte e recursos destinados pelo Programa, Lorena concluiu a graduação, iniciou sua pós-graduação e agora se prepara para o próximo exame da OAB. Reconhecendo as dificuldades enfrentadas nesse processo, ela criou um grupo para compartilhar materiais de estudo, técnicas e conhecimentos sobre o edital com outros estudantes negros que também estão se preparando para o exame.
Lorena acredita no potencial de mulheres negras para transformar o sistema judicial, tornando-o menos desigual para a comunidade negra no geral. “A gente tem muito a contribuir a começar pela mudança do olhar, hoje a maior parte da população carcerária é preta e não teve acesso a uma defesa eficiente. Descriminalizar o ser preto é urgente e só com a ocupação do judiciário por profissionais com práticas antidiscriminatórias poderemos transformar essa realidade e transformar é coisa de mulher preta”, afirma. Até receber a aprovação da OAB e poder exercer a advocacia, ela conta que seguirá atuando em rede “para tornar a justiça acessível à população periférica e aos povos tradicionais de matriz africana”.
Giovana Xavier
Giovana Xavier da Conceição Nascimento é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), possui formação em história pela UFRJ, mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Unicamp e New York University. Ela conta que é oriunda de uma família de base matriarcal, formada por mulheres da classe trabalhadora que, desde cedo, impulsionaram o seu processo de escolarização. “Ao longo de toda a minha formação escolar eu fui amparada por essas mulheres do ponto de vista emocional, financeiro, protetivo e de todas as ordens. A ideia da família negra como um espaço de educação e como prática da liberdade pra mim é muito forte”, afirma.

Assim como a maior parte dos estudantes negros que frequentam a universidade, Giovana precisou desenvolver estratégias para se manter naquele espaço e obter êxito acadêmico. Ela conta que um fator muito importante durante esse processo foi a sua participação em grupo de pesquisa coordenado por Flávio Gomes, um professor negro que atuava a serviço da positivação, transformação e desenvolvimento da comunidade negra. “Ter me formado como uma historiadora acompanhada por esse grande acadêmico, para mim foi fundamental porque trouxe junto uma possibilidade de reafirmar o nosso compromisso com a comunidade negra também do lado de fora da universidade”, explica.
De início, o projeto apresentado por Giovana ao Programa Marielle Franco previa a escrita e lançamento do livro “Ciência de Mulheres Negras”. No entanto, com a possibilidade de adaptação, algumas mudanças estratégicas foram realizadas e o livro se transformou em diversos artigos publicados em periódicos científicos avaliados pelo Qualis Capes como “A” (indicador de qualidade mais elevado do sistema). “Publicar artigos em revistas ‘A’ é uma condição para estar atuando na pós-graduação. Então, estrategicamente, para mulheres negras professoras universitárias, tem sido mais importante publicar artigos em periódicos científicos, do que livros”, ela explica.
Giovana acredita nos feminismos negros e indígenas como um importante ponto de partida para repensar as práticas de produção do conhecimento, valorização dos saberes ancestrais e legitimação de corpos e identidades subalternizadas em espaços acadêmicos. “Quando a gente chega na universidade, a gente também se alimenta do poder de autorizar as nossas próprias histórias e ferramentas de construção de um Brasil de fato justo, baseado em valores como a paz, que é central no pensamento feminista negro e indígena”, conclui.
*Esta entrevista foi realizada pelo Fundo Baobá, em parceria com a Revista Afirmativa – Coletivo de Mídia Negra.