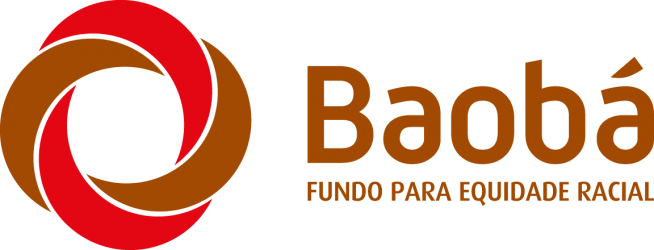Ana Caminha e Sarah Marques são ativistas pelo direito à cidade e debatem sobre o espaço urbano, moradia e racismo em suas comunidades
Por Júlia de Miranda*
Num passeio pela sua cidade, você consegue perceber a forma como a ocupa e quais são os sentimentos que emergem sobre pertencer a esse espaço? Qual a relação da arquitetura e urbanismo com os habitantes ali? Exclui, limita ou convida e agrega? Depende da região? Percebe como os problemas que acompanham a formação histórica do nosso país (questões de raça, gênero e classe, que hierarquizam as vivências) são materializados nos espaços da cidade?
Tudo isso passa despercebido para muitos moradores, mas, de acordo com a escritora Joice Berth, arquitetura e urbanismo não são neutros. O geógrafo Milton Santos traz o pensamento da cidadania mutilada: se a gente não vivencia as cidades de uma maneira igualitária, justa, equilibrada e integral, nós não podemos dizer que somos cidadãos ou cidadãs. O sociólogo Boaventura de Sousa Santos fala em “racismo do apartheid”, para ele a segregação social dos excluídos se dá através de uma cartografia urbana que divide as cidades em “zonas selvagens” e “zonas civilizadas”.
O conceito “direito à cidade” foi originalmente cunhado pelo sociólogo francês Henri Lefebvre, em 1968, e significa o direito dos cidadãos figurar sobre todas as redes, circuitos de comunicação, de informação e de trocas. Será que quando falamos da população negra esses tais direitos valem?
A agenda política “População Negra e Direito à Cidade” foi contemplado na 1ª turma do Programa de Aceleração do Desenvolvimento de Lideranças Femininas Negras: Marielle Franco. Uma ação do Fundo Baobá para Equidade Racial, em parceria com a Fundação Kellogg, o Instituto Ibirapitanga, a Fundação Ford e a Open Society Foundations. Os projetos da comerciante Ana Cristina da Silva Caminha, de Salvador (BA), e Sarah Marques do Nascimento, educadora popular do Recife (PE), debatem sobre o espaço urbano e o direito à cidade e moradia, combatendo o racismo e fortalecendo a resistência comunitária.

A luta para transformar as comunidades
Ana e Sarah são duas mulheres negras que assumiram a liderança em seus territórios. No caso da pernambucana, a comunidade Caranguejo Tabaiares, localizada na zona Oeste do Recife, instalada numa Zona Especial de Interesse Social (Zeis) de tradição pesqueira. Seu processo de despertar para a consciência de que era necessário resistir com os seus se deu em 2018, quando a prefeitura municipal ameaçou remover os moradores do local (76 casas na época) devido a uma obra. Prometendo levá-los para outro espaço, tirando seus vínculos e profissão, a comunidade não aceitou a decisão e Sarah mergulhou de vez em sua militância. “O Fundo Baobá me proporcionou condições para me aprofundar na minha luta. Nós somos os donos dessa terra, o projeto foi pensado para evidenciar as nossas raízes e escutar as mulheres idosas para a produção de uma revista que circularia por toda a cidade divulgando a nossa história e resistência”, conta a educadora popular.
Com a pandemia da Covid-19 os planos precisaram mudar, pois o acesso à terceira idade ficou restrito diante do distanciamento social. A proposta foi adaptada para um projeto de sustentabilidade, alimentação e autocuidado com todos os moradores da região. Foram arrecadadas cestas básicas e álcool para serem distribuídos nas casas, além de um dedicado trabalho de comunicação social informando a todos sobre noções de higiene pessoal e os cuidados necessários para não pegar o coronavírus. Tudo foi adaptado e produzido numa linguagem acessível para as ribeirinhas. Com o apoio financeiro do Fundo, Sarah conseguiu ficar mais tempo em casa protegida, pôde pagar as contas, comprar equipamentos de trabalho e alimentos para doação na comunidade.
Hoje ela se considera uma mulher de forte liderança e isso foi impulsionado pelo Programa, que ofereceu formação direta e a apresentou para outras lideranças negras de todo o país. “Conheci mulheres negras que estão na academia e isso me fortaleceu mostrando que estou no caminho certo sendo uma líder comunitária. A nossa discussão, que é o direito à cidade, é ampla e isso fala do acesso que todos deveríamos ter por direito. Quando são para poucos, isso se chama privilégio”, defende Sarah.
Para o futuro a intenção é que as mulheres da comunidade, maioria chefes de família, encontrem uma maneira de se auto sustentarem. Elas normalmente assumem subempregos, sem ter os seus direitos garantidos. A ideia, que já está em curso, é manter a horta e cozinha comunitária para que todos usufruam e ainda abrir para projetos de artesanatos.
Uma assessoria jurídica garantiu a regularização fundiária para a comunidade Caranguejo Tabaiares, e a prefeitura revogou o decreto. Sarah e suas companheiras e companheiros seguem firmes na luta por direito à terra.
Já Ana Caminha foi contemplada com o Fundo Baobá quando sua atuação política estava bastante intensa em defesa dos direitos da comunidade negra, periférica e pesqueira da Gamboa de Baixo, em Salvador (BA). Ela também atua em outras localizações do Centro Antigo da capital baiana. Naquele momento ela tinha notado como era importante se aprofundar no antirracismo e nos movimentos das mulheres negras, mas precisava de tempo e apoio para amplificar sua voz. “Sou uma liderança antiga, mas com dificuldades financeiras para me dispor e estar atuando no movimento”, enfatiza. Para a comerciante, a iniciativa do Baobá caiu como uma luva, já que precisava ter tempo livre para entender mais sobre o processo político. “Pelo fato de eu representar a articulação Centro Antigo de Salvador, vi na situação a possibilidade de voltar a estudar e me apropriar de informações que possibilitam uma atuação ainda mais ativa e firme”, explica Ana.
O período pandêmico foi turbulento e exigiu que a proximidade com as tecnologias chegasse à comunidade. Ana precisou adaptar sua atuação para o formato de lives, cortejos virtuais e a comunicação com outras organizações, cursos e universidades. Ela avançou seus conhecimentos na língua inglesa, porém a imersão no idioma prevista para acontecer nos EUA ainda não aconteceu. Ana pretende agora investir na carreira acadêmica. “Para mim foi uma vitória e uma conquista aprender a lidar com tecnologia e fazer luta neste espaço. Nós, da periferia, não temos tanto acesso às tecnologias e adaptar o projeto durante a pandemia me obrigou a imergir no virtual”, avalia.
O investimento do Fundo Baobá promoveu o contato de Ana com outras lideranças negras e possibilitou, maior disponibilidade para ela se debruçar no conhecimento político acadêmico. Ela também formou um grupo de mulheres negras na Gamboa para somar no ativismo.
Continuar os estudos, representar as comunidades do centro na luta por moradia e fazer frente às ações políticas antirracistas completam a lista de Ana. O objetivo é se tornar uma referência e exemplo para as mulheres negras da sua comunidade, do centro e diversos espaços soteropolitanos onde mulheres e homens negros são segregados. Seu desejo é transformar a atual precariedade e garantir direito à cidade à população negra e periférica do Centro de Salvador.
*Esta entrevista foi realizada pelo Fundo Baobá, em parceria com a Revista Afirmativa – Coletivo de Mídia Negra.