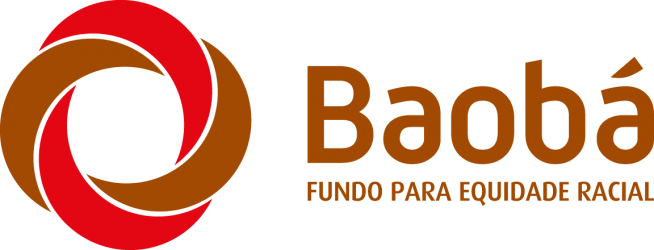Uma pesquisa realizada em junho de 2020, pelo jornal britânico The Sunday Time, perguntava quais eram as cinco profissões consideradas essenciais e quais as profissões consideradas não essenciais, no contexto da pandemia. Do lado essencial, profissionais da área da saúde lideravam a lista ao lado de faxineiras, coletores de lixo e entregadores delivery. Do lado não essencial, artistas aparecem liderando a lista, com 71% dos votos. Mesmo que a escolha tenha sido feita pela população britânica, este pensamento atravessa fronteiras e oceanos e é reproduzido aqui em nosso país. A professora de dança em Goiânia, Juliana Jardel, já foi questionada acerca da sua profissão: “Já perguntaram se eu só dou aulas de dança ou se eu trabalho também”, mostrando que há uma desvalorização imensa da classe artística. Juliana se utiliza de meios pedagógicos para mostrar a importância da arte, principalmente no contexto pandêmico: “Eu sempre digo para quem diz que a arte não é importante e que nunca precisou de um artista, para desligar os rádios e as TVs, além de não abrir nenhum livro. Dessa forma eles compreendem a importância de qualquer manifestação artística”.
Por compreender a importância das artes para desconstruir representações sociais negativas da população negra, o Fundo Baobá para Equidade Racial prioriza apoio a iniciativas negras alinhadas aos eixos programáticos da organização, entre eles o comunicação e memória, que consiste em apoiar projetos e iniciativas de valorização e difusão de bens culturais materiais e simbólicos (produção artística – música, dança, canto, literatura, etc.; práticas culturais tradicionais e inovadoras), além da mídia negra. Promovendo a cultura negra e resgatando a nossa memória em todo o território nacional.
Cientes que somos da importância da arte para reflexão, alívio das dores e preocupações ou mesmo para o nosso entretenimento, deixamos as seguintes perguntas no ar: a (o) artista deve se engajar e se posicionar diante de determinadas situações de crise? As diversas manifestações artísticas negras que, historicamente foram perseguidas, por si só não são um ato de resistência?
O Fundo Baobá entrevistou três artistas negros, de diferentes linguagens, para responder a estes questionamentos e nos contar suas histórias e trajetórias.
Juliana Jardel: A dança como instrumento de resistência e cuidado do nosso povo
Com quatro anos de idade, Juliana Jardel acompanhava a sua mãe, que era costureira em domicílio, até a casa de outras mulheres, para pegar roupas e realizar reparos. Em um desses passeios, a pequena Juliana se encantou com uma foto de formatura que estava pendurada na parede de uma casa, ao lado de um altar com imagens de santos: “Essa pessoa deve ser muito importante, porque a foto dela está do lado de um santo”, pensou a criança, que mesmo muito pequena lembrou que só havia visto fotos parecidas com aquela na casa de outras pessoas brancas. Ao chegar em casa, perguntou ao pai, que era fotógrafo, se pessoas negras poderiam ter aquela foto também e por que ela nunca tinha visto uma parecida na casa de pessoas negras. Naquele momento, Juliana Jardel decidiu que teria uma foto como aquela. Hoje, aos 43 anos de idade, Juliana não só tem uma foto da sua formatura em Dança, como também do mestrado em Performances Culturais e, logo mais, terá registros de sua tese de doutorado em Antropologia Social.
O amor de Juliana Jardel pela arte começou no seio familiar: “A minha família sempre foi muito dançante. O meu tio Virgílio – hoje falecido – fazia parte de uma escola de samba, aqui de Goiânia, chamada Brasil Mulato, e as minhas tias faziam uma ala só da família nessa escola”, recorda Juliana, que estreou como membro da Brasil Mulato com apenas três anos de idade. “A escola de samba ficava em um bairro negro, era o principal ponto de encontro da população negra de Goiânia”.
Aos oito anos, quando Juliana Jardel foi fazer aulas de jazz, ela pôde sentir a importância da representatividade negra: “A Tia Constança, a minha professora de jazz, era negra. Aquilo foi muito importante pra mim, porque eu fui criança nos anos 1980, e naquela década tinha muitos filmes musicais e tinham muitos corpos negros dançando. Então, na minha cabeça, eu tinha que ir para os Estados Unidos para dançar. Mas quando eu vi a Tia Constança, eu entendi que era possível fazer algo aqui”. Ainda na infância, ao lado de seu irmão Jarbas, outro grande apaixonado por dança, e dos seus primos, fizeram parte da companhia do Juquinha: “Era um show que tinha em Goiânia com apresentações artísticas e imitações”, relembra Juliana que, ao lado do irmão fez imitações do Trem da Alegria e da Banda Reflexu’s, famoso grupo de samba reggae formado nos anos 1980, em Salvador (BA). A Reflexu´s tem um trabalho musical voltado à valorização da história e cultura afro-brasileira: “Até então, a gente não tinha muito entendimento do que era o continente africano. Mas as letras da Banda Reflexu’s nos impactaram porque falavam de uma África completamente diferente do que era aprendido na escola. Foi muito importante pra mim”, revela Juliana.
Com a separação dos pais, Juliana Jardel deu um tempo na dança ( “Dança é algo muito caro, infelizmente”) e aos 16 anos arrumou um emprego. Mas o amor pela arte falou mais alto e retornou à dança na fase adulta. Integrou a Companhia Nômades até que, finalmente, entrou na faculdade de dança, no mesmo ano em que sofreu um imenso golpe: “Quando entrei na universidade, eu estava com mais de 30 anos, mas entrei com tudo. Falei ‘a minha hora é agora’. Mas logo no primeiro ano, o meu irmão, meu parceiro de dança, faleceu”.
No ano de 2014, Juliana fundou o grupo Corpo Suspeito, uma parceria da Universidade Federal de Goiânia (UFG) com o Sesi, e em paralelo a isso criou um método de dança chamado Movimentos Atlânticos: “é o método de dança que eu uso no Corpo Suspeito e tem ligação com a minha avó que morava na fazenda. Então, alguns pilares dessa dança são coisas cotidianas que a minha avó fazia por lá, o pilar, o peneirar e encher o pote d’água. São esses três elementos que fazem parte fundamental da coreografia, mas entra também a coisa do axé, da dança dos orixás e dos elementos do candomblé”, revela.
Na primeira apresentação do Corpo Suspeito, Juliana Jardel teve uma ideia: convidar dois dançarinos brancos para interpretar a sua coreografia: “Foi proposital, eu queria ver a reação das pessoas ao ver uma mulher negra coreografando pessoas brancas”. O experimento realizado por Juliana funcionou: as pessoas presentes acreditavam que a performance era elaborada pelo dançarino branco, que chegou a demonstrar desconforto com a situação: “Ele chegava até mim e dizia que estava se sentindo mal, pelo fato de as pessoas acharem que o grupo era dele. Mas eu disse para ele não se preocupar, que na hora certa eu iria aparecer. Quando eu apareci, foi engraçado ver a reação chocada das pessoas”.

O último trabalho realizado pela coreógrafa foi “Do Àiyé ao Òrun: A Escrita da Diáspora”, um filme dança, como ela mesmo gosta de chamar, por causa dos seus 32 minutos de duração, gravado no espaço da UFG – que estava fechado devido à pandemia da Covid-19 e que, segundo a própria coreógrafa, é um trabalho político: “O vídeo retrata o processo da escrita. Mas não só da escrita acadêmica, uma escrita da vida ou a escrita do corpo. Um movimentar constante e um correr constante”. No vídeo, Juliana Jardel faz sua performance artística rodeada de imagens e desenhos de personalidades negras como Marielle Franco, Mestre Moa (morto a facadas em outubro de 2018, em Salvador, por motivações políticas) e Zumbi dos Palmares, além de fazer uma referência ao baculejo, gíria dada à revista efetuada por policiais a civis em locais públicos: “Não é só o baculejo da polícia que eu retrato, é o baculejo do sistema, que a toda hora vai te parar e vai te advertir, para ver se você realmente está apto a seguir”. Além do posicionamento político, o vídeo também remete à ancestralidade e à gratidão familiar, contando com imagens dos seus familiares ao longo da manifestação artística e com a narração do Babalorixá Paulo de Odé: “Por mais que o meu trabalho seja de cunho político, eu faço de tudo para não construir uma estética negra, simplesmente, pelo viés da dor, mas pela potência que o nosso povo tem. Me incomoda muito essa estética ainda presa a um sistema colonial, sempre da coisa da escravidão. Porque não é só isso, nós somos ricos em criatividade, em virtualidade, em poesia e em sensibilidade. Então, eu procuro sempre trazer essa delicadeza nos meus trabalhos”.
Em 2019, Juliana Jardel foi uma das selecionadas para o Programa de Aceleração e Desenvolvimento de Lideranças Femininas Negras: Marielle Franco, iniciativa do Fundo Baobá em parceria com Fundação Kellogg, Instituto Ibirapitanga, Fundação Ford e Open Society Foundations. Juliana reconhece que o apoio do Fundo Baobá foi importante para a manutenção do seu mestrado em Performances Culturais, além de exibir orgulhosa, pela chamada de vídeo, as suas maiores aquisições graças ao Programa Marielle Franco: “Não sei se dá pra ver a minha estante aqui, ela está lotada de livros. Eu comprei os livros que eu mais desejei na minha vida e que são importantes para minha área, graças ao apoio do Fundo Baobá”.
No dia 8 de abril, o mundo perdeu o dançarino, coreógrafo Ismael Ivo, mais uma vítima da Covid-19. Juliana Jardel, que tem uma admiração imensurável pelo coreógrafo, chegou a estudar a sua obra em dois momentos da sua vida acadêmica. Na graduação, ela estudou a obra de Ismael Ivo pela ótica da estética do trauma e no mestrado ela mergulhou na pesquisa do dançarino na perspectiva da antropofagia. Juliana lamenta, não apenas a perda de Ismael Ivo, mas a falta de reconhecimento com a sua obra ainda em vida: “Muita gente me disse que conheceu Ismael Ivo através de mim. Eu sempre colocava foto dele nas minhas redes sociais e muitas pessoas vinham me perguntar quem era aquela pessoa. Se você for nas escolas de formação em dança, você jamais vai ver uma foto do Ismael Ivo. Quantos bailarinos negros nós poderíamos ter formado, com uma simples imagem do Ismael Ivo, em uma sala de dança? Mas o racismo no Brasil tem esse poder de eliminação e eu temo que ele e a sua obra caiam no esquecimento”. Diante deste fato, Juliana reforça a importância da arte negra ser engajada: “Eu sempre me posicionei e não é possível fazer arte sem posicionamento, porque a nossa dança, o nosso corpo é um ato político e o nosso papel é cuidar do nosso povo”. Finaliza.
Orun Santana: Colocando a dança de Pernambuco no mapa do mundo
“Artista sem posição só contribui para a permanência absoluta do racismo estrutural e de seus agentes.” A fala forte é do bailarino, capoeirista, professor e pesquisador da dança e cultura afro Orun Santana, 30 anos, do Recife (Pernambuco). Ele vem se tornando uma das referências da dança no país. Em 2019, seu espetáculo Meia Noite, depois de passar por importantes palcos de Pernambuco, São Paulo e Belo Horizonte, foi parar no outro lado do mundo. Meia Noite foi visto no 22o Festival Lusofonia, em Macau, na costa sul da China, e na 11a Semana Cultural da China dos Países de Língua Portuguesa.
O espetáculo Meia Noite mostra a relação entre Orun Santana e o mestre Meia Noite, fundador, juntamente com sua esposa, a também bailarina Vilma Carijós, do Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo. Meia Noite e Vilma são os pais de Orun. “Nasci dentro de uma família de artistas. Tive o privilégio de crescer em contato direto com a cultura popular, envolvido com os movimentos socioculturais desenvolvidos e vivenciados junto a meus pais. Não me enxergo vivendo uma vida longe da arte e da dança. A arte sempre fez e continuará fazendo parte de quem sou”, afirma.

Orun Santana não se vê criando espetáculos de dança que não reflitam a realidade do povo preto no Brasil. “Minha prática artística está ancorada nas danças negras, deste corpo que fala e se move dentro de uma construção simbólica e imaginativa dentro de nossa construção de negritude. Em meu segmento, o corpo negro que consegue e acessa espaços da cena já torna-se político. Justamente pela ausência de nós, negros, ocupando espaços e lugares. Partindo daí, sigo elaborando discursos e poéticas na dança”, diz.
Como artista negro engajado, os fatos do cotidiano que acontecem no Brasil influenciam diretamente na criação de Orun. “Faz parte de meu trabalho solo, a lembrança da morte do mestre baiano Moa do Katendê, assim como da negritude morta pela polícia nas periferias. As cenas dialogam demais com os acontecimentos recentes (espancamento e morte de João Alfredo, massacre no morro do Jacarezinho, entre outros). Esses fatos mexeram e mexem muito comigo, primeiro como homem negro; depois em minhas ações e práticas educativas e artísticas”, afirma.
O bailarino brasileiro, já reconhecido no exterior, está cuidando de algo importante para quem já domina a prática: a formação acadêmica: .”Minha principal formação foi pelo Daruê Malungo. Pelos mestres Vilma Carijós e Meia Noite. Também estou cursando Licenciatura em Dança pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)”. Suas principais influências, além dos pais, são Germaine Acogny (bailarina e coreógrafa do Senegal), Rui Moreira (bailarino e coreógrafo brasileiro, com atuações no Cisne Negro, Grupo Corpo e São Paulo Cia de Dança), Mercedes Baptista (primeira negra a ser bailarina clássica no Brasil), Mestre Martelo (artista de sabedoria popular que junta histórias, cantigas, cordéis e dança em suas apresentações), Alvin Ailey (coreógrafo e ativista norte-americano que fundou o Alvin Ailey American Dance Theater), Zebrinha (mestre capoeirista) e demais amigos e parceiros da dança que tanto contribuem dançando junto comigo.
Samuel Santos: Do palco do futebol para o palco do teatro
Futebol e teatro. Em comum entre essas duas formas de arte a palavra atuação. A vida do pernambucano Samuel Santos, 50 anos, caminhava nos anos 1980 para uma carreira no futebol. Mas a dura realidade brasileira deu um chute no sonho. A luta pela sobrevivência gritou mais alto. Era necessário ajudar a família a pôr comida dentro de casa. Um momento de arrebatamento, ocorrido tempos depois, o colocou em contato com outra arte, que definiu uma vida.
Samuel vinha se destacando nas equipes de categoria de base do Santa Cruz Futebol Clube, o Santinha, que revelou nomes como o também pernambucano Rivaldo, campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002, no Japão. Mas o sonho do jovem centroavante ficou pelo caminho. “Aos dezessete anos sai do Santa e abandonei o sonho de ser jogador. Não por falta de talento, mas por necessidade de sobrevivência. Tinha que trabalhar e ganhar dinheiro para o sustento da família”, diz.
A arte entrou de forma definitiva na vida de Samuel Santos durante as festas juninas, uma das principais manifestações culturais do país, tão marcante nos estados do nordeste. “Em 1989, num ensaio de quadrilha junina, fui convidado para fazer parte de um grupo de teatro na comunidade do Alto José Bonifácio, bairro do Recife. Entrei em contato com o teatro de forma empírica (por observação e experiência, sem metodologia) e formei o Grupo Teatral Pé no Chão”, afirma Samuel.

O autodidatismo fez com que o conhecimento de Samuel Santos pela arte da representação fosse crescendo. “Não tenho curso superior, não sou acadêmico. Sou autodidata. Tenho 32 anos de teatro e já fiz cursos e oficinas com principais nomes do teatro brasileiro e internacional, como Antunes Filho (um dos principais diretores teatrais brasileiros, morto em 2019), Eugenio Barba (italiano, diretor de teatro e cinema, criador do ISTA – International School of Theatre Anthropology), Julia Varley (atriz e dramaturga), Linna de La Roca (atriz), Roberta Carreri (atriz), entre outros”.
A formação de uma consciência social em suas plateias sempre esteve presente no trabalho de Silva, desde o grupo Pé No Chão. “Como primeiro trabalho, o Grupo montou a peça Calendário Tradicional, de Zezo de Oliveira. O grupo tinha como objetivo discutir as questões sociais na comunidade e lá desenvolver um rico trabalho de conscientização sobre as problemáticas do bairro”, salienta.
Da experiência de conscientização da gente do bairro para a abordagem das questões sociorraciais no Brasil não levou muito tempo. Para ele, artistas negros e negras devem estar engajados na luta por equidade. “Se o desejo do artista for pela mudança das estruturas, sim. Mas sabemos que a saúde mental do povo negro vem sendo bombardeada desde a sua captura e sequestro da África, passando pelos navios e chegada no Brasil. Então, é todo um processo histórico para entender e se entender”, afirma.
O entendimento desse processo histórico e o entendimento sobre o que se passa é uma longa jornada.” Tudo é um processo de construção e desconstrução para depois a gente ter uma base e uma consciência preta. As nossas referências negras foram e são invisibilizadas no processo de nossa formação. Isso é histórico e cruel. As nossas escolas, universidades e espetáculos não trazem essas bases negras. Somos colonizados dentro de uma formação de branquitude e eurocentrismo. As novelas, a literatura, o cinema, as expressões artísticas como um tudo. Tudo nos leva apenas a um único olhar: o do colonizador. Sabe quando a gente é criança e nossos pais dizem que Papai Noel existe? Que ele vai trazer no Natal um presente e para ganhar esse presente temos que nos comportar? Ao descobrir que esse Papai Noel não existe, ficamos com raiva de ter sido enganados por muito tempo. Pronto! É assim!”, afirma.
O ativismo preto está presente em suas criações ou colaborações em eventos como o Festival Luz Negra: O Negro em Estado de Representação, que evidencia o protagonismo de artistas negros nas artes cênicas; o Pretação, mostra de teatro de mulheres pretas; as Terças Pretas, sequência de lives teatrais e a Escola de Antropologia Teatral, onde alunos, alunas, alunes têm contato com expressões culturais negras de Pernambuco, além de desenvolverem exercícios ancestrais de dança baseados nos movimentos dos orixás.
Samuel Santos, mesmo fora do futebol, continua marcando seus gols. ”Quando você percebe que o teatro é um instrumento, uma arma poderosa, e que nele, o teatro, e que nela, a arte, podemos construir uma vida melhor para quem faz e para quem assiste, não tem preço”, define.