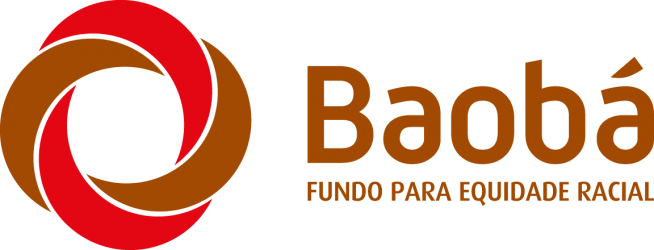Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010, mostram que 588 mil brasileiros são adeptos do candomblé e da umbanda. Embora representem uma pequena parcela da população – menos de 0,3% – o preconceito que enfrentam por expressarem sua crença é dos maiores. Segundo levantamento do Disque 100, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, houve aumento de 56% nas denúncias de intolerância religiosa no primeiro semestre de 2019, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.
As religiões mais perseguidas foram justamente as de matriz africana, com terreiros sendo incendiados e imagens sagradas destruídas. Para o historiador e mestrando de Estado, Governo e Políticas Públicas na FLACSO (Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais) e membro da Assembleia Geral do Fundo Baobá para Equidade Racial, Lindivaldo Junior, a razão e motivação disso tudo tem um nome: racismo. “Está presente em todas as dimensões da nossa vida e estrutura as relações sociais. As religiões de matriz africana são discriminadas no contexto da inferiorização das pessoas negras e de tudo que se refere à sua estética, história, cultura e referência.”

O mesmo pensamento tem Patricia Alves de Matos Xavier, no mundo religioso conhecida como Iya Suru, do terreiro Ilê Axé Iya Mi Agbá em Bauru (SP). A violência contra as tradições de matrizes africanas produzidas e reproduzidas hoje têm como motivação o mesmo pensamento presente entre os séculos 19 e 20 na sociedade. “Tem como base o racismo produzido pelo arranjo criativo intelectual apoiado no ensino superior, por institutos de pesquisa e difusão, e teve como foco o extermínio do conjunto de saberes ancestrais mobilizados, para promover a limpeza étnica eugenista”.

Com 53 anos, 50 deles no candomblé, como ela mesma gosta de afirmar, a Ialorixá Jaciara Ribeiro dos Santos, do terreiro Ilê Axé Abassá de Ogum, em Salvador (BA), classifica tal ação como ódio religioso. “A intolerância religiosa tem crescido, considerando a falta de informação. Na verdade, vejo isso mais como um ódio mesmo”. Jaciara já foi vítima desse ódio religioso em 2016, quando seu terreiro foi alvo de vandalismo e depredação, incluindo o busto de sua mãe biológica, a Ialorixá Gildásia dos Santos, a Mãe Gilda de Ogum, que fica localizado no Largo do Abaeté, em Itapuã.

Mãe Gilda de Ogum, por sua vez, foi o principal símbolo de resistência e luta contra a intolerância religiosa. Em 1999, teve seu templo invadido, depredado e o seu marido agredido por fundamentalistas religiosos. Não superando o trauma dos ataques, faleceu em janeiro do ano seguinte, de infarto fulminante, após ver o seu nome e foto veiculados em um jornal de uma igreja evangélica, chamando-a de “macumbeira charlatã”. No ano de 2007, foi sancionada a Lei nº 11.635, que institui o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, celebrado no dia 21 de janeiro, dia da morte de Mãe Gilda de Ogum.
A luta da Ialorixá Jaciara é contra a intolerância religiosa e ela acredita que a forma mais eficiente de fazer isso é por meio da educação e do diálogo. “Eu sempre faço atividades, roda de diálogos aqui na comunidade, no terreiro e faço também parceria com as escolas. Acho que só através da educação pra gente mudar esse ódio religioso e esse racismo”. Além disso, Jaciara, que é a apoiada pelo Programa de Aceleração do Desenvolvimento de Lideranças Femininas Negras: Marielle Franco, do Fundo Baobá em parceria com Instituto Ibirapitanga, Fundação Ford, Open Society Foundations e Fundação Kellogg, dá curso de corte e costura, em um projeto chamado “Costurando a Ancestralidade”, e organiza uma feira na orla da Lagoa do Abaeté que busca estimular o empreendedorismo feminino e pequenos empreendedores do bairro de Itapuã.

“Sou idealizadora da feira Iya Lagbara, que significa mulher empoderada, e tenho uma equipe com 50 empreendedores. Fazemos feiras aqui na comunidade e também dou curso de turbante e curso de culinária”, diz. Iya Suru, por sua vez, é atualmente presidente do Instituto Omolará Brasil. “Uma organização de mulheres negras que age para transformar a realidade pela educação, afroempreendedorismo e valorização das raízes africanas no Brasil, com ações para fortalecer outras mulheres negras em diversas regiões do país”, como o Instituto se descreve. O Omolará Brasil também foi um dos apoiados do Programa Marielle Franco, com o projeto “Trincheira Preta Feminista”, cujo principal objetivo é: “o fortalecimento institucional através de ações de formação política em diálogo com mulheres negras e suas comunidades”.
Além disso, Iya Suru é integrante do grupo Mães Pela Diversidade, na cidade de Bauru, que sempre realiza ações voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social. “Iniciamos uma campanha de atenção às mulheres trans e travestis que tiveram suas situações de vulnerabilidade agravada pela pandemia do coronavírus”, diz.

Mesmo sendo alvo constante do racismo institucional e religioso, as religiões de matriz africana têm conquistado a cada dia o respeito e o direito de serem cultuadas. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, que é constitucional o sacrifício de animais em cultos religiosos. Na época, denúncias equivocadas e repletas de racismo motivaram a ação movida. “Cada vitória é resultado de muita luta e articulação dos movimentos sociais. Sempre foi assim para a população negra. Foi assim nas conquistas da constituição federal que reconhece os quilombos e o patrimônio cultural afro-brasileiro como patrimônio a ser preservado, assim como define o racismo como crime. A participação social levou a um maior envolvimento de segmentos de matriz africana no monitoramento de políticas públicas e fortaleceu as comunidades como uma ‘categoria política’ de relevante papel no momento atual”, afirma Lindivaldo Junior.
A falta de informação ajuda a entender porque boa parte da população brasileira não reconhece ou compreende a importância das religiões afro para a construção da identidade do nosso próprio país. “As comunidades de matriz africana influenciam a forma como vivemos nós, os brasileiros, em especial a população negra. Apesar do constante desrespeito e negação, fruto do racismo, as religiões de matriz africana preservam a cultura alimentar tradicional e comunitária, a musicalidade, a produção artística, e o nosso português por exemplo, totalmente africanizado”, afirma Lindivaldo.
Palavras como “Abadá”, que hoje é o nome dado a uma camiseta usada pelos integrantes de blocos e trios elétricos carnavalescos, tem a sua origem na cultura afro, significando túnica folgada e comprida. Assim como cafuné (fazer carinho na cabeça de alguém), dengo (gesto de carinho), agogô (instrumento musical), babá (pessoa que cuida de criança), farofa (mistura de farinha com água, azeite ou gordura), entre muitas outras. “As tradições de matrizes africanas são espaços de preservação dos processos de aprender e ensinar ancestralidade, valorização da vida e da natureza”, completa Iya Suru.
Em uma explicação didática, feita pela Ialorixá Jaciara, entendemos sua dimensão. “O candomblé é uma religião afro-brasileira derivada de cultos tradicionais africanos, no qual a gente cultua o ser supremo, Olorum, e o culto dirigido diretamente à força da natureza. Cultuar candomblé é contemplar a essência do próprio universo”. Além do respeito e amor pela natureza e de toda contribuição cultural e identitária para o nosso país, as religiões de matriz africana desempenham um papel social importantíssimo nos locais onde estão inseridas.